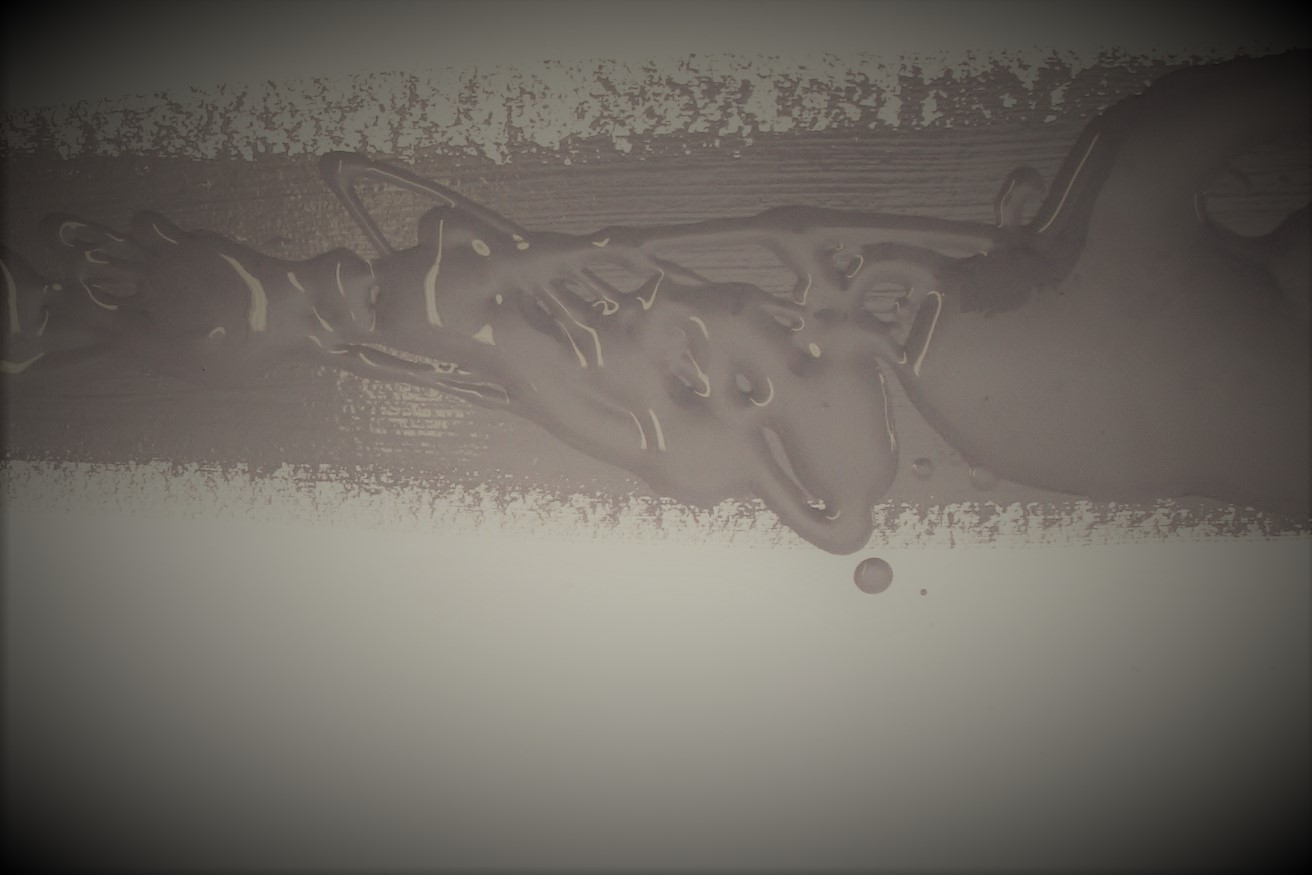Josélia Gomes Neves
publicado em 16/01/2008
www.partes.com.br/educacao/joselianeves/intercultural.asp
|
Resumo: Este trabalho tem o propósito de elaborar uma reflexão inicial e breve sobre o processo de aquisição da leitura e da escrita em áreas indígenas, na Amazônia, a alfabetização intercultural com ênfase nos possíveis impactos que a cultura escrita pode produzir nestas sociedades a partir das contribuições de .Jack Goody e Ian Watt com a obra: As consequências do letramento (2006); McLuhan (1962) com A Galáxia de Gutenberg (1967) e Lévi-Strauss (1962), com O Pensamento Selvagem (1983. Palavras-chave: Educação indígena. Alfabetização intercultural. Cultura Escrita. Sociedades Ágrafas. |
 shiva.ro@uol.com.br Os estudos sobre alfabetização intercultural vêm sendo desenvolvidos por vários pesquisadores no intuito de verificar principalmente as implicações da cultura escrita[1] em sociedades ágrafas, neste caso específico, as populações indígenas, tendo em vista as demandas surgidas que apontam para a necessidade da aquisição deste saber em função das relações pós-contato entre estes e a sociedade não-indígena. Utilizamos a expressão alfabetização intercultural da UNESCO para designar uma importante característica da educação escolar indígena, pois pressupõe o esforço do diálogo entre diferentes culturas e saberes, neste caso, a sociedade indígena e não-indígena. Encontra-se também fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Nº. 9394/96 no artigo 78, onde estabelece que: O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. Sabemos que esta concepção de interculturalidade é recente, pois a trajetória da educação escolar indígena (LOPES DA SILVA; GRUPIONI, 1995) nos informa que de maneira geral, a pretensão da escola era de integrar estas populações étnicas à sociedade nacional, no entanto, uma das razões que impossibilitava a consecução deste objetivo eram as línguas indígenas. Neste sentido, a tarefa da escola será justamente a de ensinar os alunos e alunas da aldeia a falar, ler e escrever em língua portuguesa para que assim este entrave fosse superado, questão que trataremos mais adiante. Desde os anos 1960 vêm sendo produzidos estudos relevantes sobre os impactos da escrita em sociedades ágrafas[2] que tratam dos efeitos do letramento na cultura das sociedades tradicionais ou pré-industriais: em 1963 foi publicada a obra As consequências do letramento de Jack Goody e Ian Watt (2006); outra referencia importante neste sentido foi o trabalho de McLuhan (1962) intitulado A Galáxia de Gutenberg (1967), posteriormente, o lançamento do clássico de Lévi-Strauss (1962), O Pensamento Selvagem (1983). Como ponto comum, estas obras apresentam elaborações que envolvem as comunidades orais – sua condição inicial de sociedades ágrafas e a inserção da escrita em seu meio social em função principalmente do contato com sociedades letradas. As interpretações decorrentes destes estudos provocaram o surgimento da idéia de uma possível dicotomia entre estes dois modos de expressão da linguagem: a oralidade e a escrita, na medida em que ao estabelecer comparações entre elas, uma (a escrita) se colocasse mais importante que a outra (a oralidade). Outras leituras sugerem que tais estudos acabaram por atribuir a escrita, particularmente a alfabética, uma superioridade em relação a outras formas de registro, com implicações de desvantagem para as sociedades ágrafas. De acordo com Harris[3] (1980) apud Barros (1994, p. 30) a tradição intelectual ocidental define a escrita como “[…] forma superior de expressão do conhecimento por ter eliminado as barreiras do tempo e da memória. Assim um sistema de conhecimentos baseados na escrita, é considerado superior às formas de conhecimentos orais”. Outra característica é a de considerar a possibilidade de transpor com fidelidade os sistemas de conhecimento oral para a escrita. Neste sentido, a nosso ver, as contribuições de Ong (1998), Jack Good (1986) e Harris (1980), permitem uma problematização contundente a respeito, pois ao analisar as relações entre oralidade e escrita e fundamentados em experiências lingüísticas, atestam que ambas são extremamente diferentes em termos fenomenológicos, pois são marcadas por várias formas de oposição: a escrita é mais visão, espaço, resíduo, externa ao corpo, autônoma em relação ao contexto, já a oralidade é mais audição, tempo, evanescência, corporal e dependente do contexto. Portanto, adverte que a oralidade não pode ser entendida como o reflexo da escrita: “A escrita científica só tem o poder de guardar resíduos da oralidade e não de reproduzi-la”. (BARROS, 1994, p. 31). Assim, levanta uma série de questões sobre os possíveis impactos da escrita em sociedades orais: “Em nível social, a escrita equivale a uma tecnologia que tem como peculiaridade intervir em nível do simbólico, quando introduzida em uma comunidade ágrafa, acarreta mudanças na forma de organização social de um grupo ao legitimar certas modalidades de conhecimentos e certos grupos em detrimento de outros”[4]. (p. 31). Significa que no processo de sistematização da língua indígena, no tocante à grafia de palavras, por exemplo, uma que tenha forma alongada – se houver diferença entre o rápido e o lento, corre-se o risco de registrar apenas um jeito de dizer aquela palavra. Deste modo, a escrita estabelece regras na língua ágrafa; a decisão cabe ao lingüista que decide uma questão sobre uma língua que não é a dele. (HARRIS, 1980). “É o lingüista, o falante estrangeiro, que tem autoridade para determinar o correto na escrita do falante ágrafo” (BARROS, 1994, p. 32). Por fim, estabelece críticas à concepção de correspondência entre a oralidade e a escrita proposta pela linguística traduzida na expressão ‘Para cada fonema, um só símbolo’. Compreende que a ‘normatização’ é uma das maneiras de se estabelecer o ’tipo lingüístico’ a introdução do “tipo lingüístico” pode contribuir para o desaparecimento da ideia de diversidade lingüística. A normatização no processo de criação de uma escrita na língua indígena, é o processo pelo qual se reduz a diversidade de formas de pronunciar uma palavra, a uma única forma de preferência aquela estipulada pela análise do lingüista.” (p.32). Richard Chase Smith (1981) apud Barros (1994), cita a experiência com os Amuecha no Peru, alerta para os impactos da escrita em sociedades ágrafas, no que se refere a oposição de valores que se estabelecem entre os detentores do conhecimento tradicional – os velhos e os jovens alunos da escola. Assim a introdução dessa prática na aldeia pode resultar em uma imposição do modo de vida ocidental, acarretando desinteresse pela tradição oral e impelindo à criação de desigualdades no interior da sociedade, entre os que são letrados e os não-letrados. Para Cohn (2006) há riscos que as intervenções culturais sutis podem causar nas línguas indígenas no processo de transposição da oralidade para a escrita, pois: As línguas indígenas brasileiras são ágrafas, e sua inclusão na escola implica na criação de uma grafia e no estabelecimento de um registro escrito para conhecimentos que, originalmente, não são congelados em forma de texto, mas, ao contrário, recriados continuamente na produção oral. […] Afinal, grafias são elas também construções sociais e históricas, e sua produção técnica por não falantes da língua, por mais séria que seja, traz alguns “efeitos colaterais” sentidos e denunciados pelos seus falantes e pelos linguistas mais atentos. (COHN, 2006, p. 8 ) Ainda sobre o assunto, Maria Cândida Barros, indaga a respeito de como o mito narrado oralmente ao passar para o papel, produz uma ruptura em termos de domínio de saberes, pois: “[…] a publicação das narrativas tradicionais em forma de livro de leitura para a escola, acabam sendo de certas pessoas no grupo e não de todos: a sua difusão escrita na escola altera a forma de seu domínio ao separar o conhecimento do conhecedor” (BARROS, 1994, p. 32). As diferenças entre as competências orais e escritas são evidenciadas também por Maria Elisa Ladeira: Questionamo-nos sobre qual o sentido e as consequências da escrita em sociedades orais, no caso das sociedades indígenas brasileiras. Sabemos como antropólogos, que é ilusão pensar que a oralidade e a escrita sejam dois caminhos possíveis para se transmitir as mesmas mensagens. (LADEIRA, 2002, p. 3) Assim, estudiosos afirmam haver ingerência do bilinguismo escrito nos aspectos orais da cultura indígena. No caso da publicação das narrativas tradicionais através de livros para desenvolver a competência leitora na escola, mencionada anteriormente, por exemplo, há o risco da produção escrita passar a ser de posse de certas pessoas do grupo e não de todas as pessoas: afinal de quem é a autoria do texto? A crítica consiste na questão de que o que antes era da coletividade agora leva uma assinatura de alguém, de forma que: “[…] a sua difusão escrita na escola altera a forma de seu domínio ao separar o conhecimento do conhecedor” (MONSERRAT, 1994, p. 32). Então, o narrador do texto, alguém que empresta sua voz para recontar uma história, após a narrativa tem diante de si, algo que não reconhece e que não é mais do seu domínio, os riscos que visualiza indicam que a história está ali, mas que ele não dispõe de elementos para identificá-la, trata-se de um saber que ele ignora. Como ficarão as relações entre o narrador ágrafo e o escriba indígena? Neste sentido a autora afirma que a educação bilíngue exclui a oralidade primária dos povos indígenas, pois: “[…] critica a cultura oral ao tirar a legitimidade das formas de conhecimento indígena sustentadas no mundo da oralidade e ao privilegiar a escrita como única forma de conservação da cultura indígena” (idem,1994, p. 33) Portanto, ao longo da discussão sobre a alfabetização intercultural, em relação aos impactos da escrita em contextos ágrafos, observamos que há posicionamentos de estudiosos desfavoráveis quanto ao ensinar e aprender línguas indígenas na escola, por meio da escrita, tendo em vista as consequências negativas para estas comunidades. Entretanto, a despeito de estudos como estes, há ideias divergentes que não só apoiam o uso da escrita mediante os processos de educação e escolarização em comunidades de tradição oral, como ilustram experiências que apontam para implicações consideradas relevantes, ganhos para estas populações levando em conta principalmente as relações com as sociedades letradas.
Considerações Finais Os impactos da cultura escrita estão presentes no cotidiano das comunidades indígenas. Para Monte (1994) é preciso provocar o surgimento de políticas públicas referentes à utilização das línguas – portuguesa e indígena, no sentido de valorizar publicações de textos de autoria das comunidades indígenas, tendo como ponto de partida a pesquisa etnolinguística. Informa que de cinco anos para cá vem intensificando a produção de materiais didáticos na língua indígena, produzidos por professores e assessores, o que poderá contribuir para a ampliação dos processos de alfabetização na língua indígena. O incentivo sistemático de atos de escrita e leitura em língua indígena, com sentido para a vida da comunidade. Concordamos com a autora citada que é necessária a construção de novas práticas sociais de leitura e escrita em língua portuguesa e língua indígena. Entretanto, resta indagar se a escola indígena tem condições de interferir neste nível na vida das comunidades, embora possa influenciar no processo. Talvez caiba a ela ficar atenta às práticas sociais que envolvam leitura e escrita vividas na comunidade, e trazer estas experiências para a escola, inserindo-as no currículo. Entretanto Betty Mindlin (2004) alerta para o fato de um maior aprofundamento referente a discussão sobre alfabetização no sentido de compreender que ‘a escrita, porém, não, pode ser uma imposição cultural, e sim é um dos meios possíveis para a afirmação cultural e social, quando associada a outras formas de linguagem’. (p. 111). Portanto, talvez a ideia seja construir uma transição entre o oral e o escrito de forma a transformar impactos negativos em apropriação efetiva correspondente aos anseios das populações indígenas.
Referências BARROS, Maria Cândida Drumond Mendes. Educação Bilíngüe, Lingüística e Missionários. Em Aberto, Brasília: v. 14, n. 63, p.18-37, jul./set., 1994. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nº. 9394/96. Brasília, 1996. COHN, Clarice. Notas sobre a escolarização indígena no Brasil. Disponível em: http://www.acoesafirmativas.ufscar.br/escolIndClarice.pdf Acesso dia 23 de setembro de 2006. FERREIRO, Emília. Cultura Escrita e Educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. GOODY, J., WATT, I. As conseqüências do letramento. São Paulo: Paulistana, 2006. HARRIS, Roy. The language-makers. London: Duckworth,1980. LADEIRA, Maria Elisa. Sobre a língua da Alfabetização Indígena. Disponível em: http file:///C|/ingua-alfabetiza.htm (5 of 5).Acessado em 8/1/2002 LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. RJ: Zahar Ed., 1983. LOPES DA SILVA, Aracy e GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (orgs.). A Temática Indígena na Escola – novos subsídios para professores de 1º e 2º Graus. Brasília, MEC/MARI/UNESCO, 1995. MCLUHAN, M. A galáxia de Gutenberg. São Paulo: Cultrix, 1967. MONSERRAT, Ruth M. F. O que é o ensino bilíngüe: a metodologia da gramática contrastiva. Revista Em Aberto, MEC-INEP: Brasília, julho, 1994. ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita. Campinas, SP: Papirus, 1998. SMITH, Richard Chase. The Summer Institute of Linguistcs: ethnocide disgrised as a blessing. In: HVALKOF, Soren; AABV, Peter. Is God an American? Antropological perspective on the missionary work of the Summer Institute of Linguistcs. London, Survival international: IWGLIA, 1981.
UNESCO. Brasil. Materiais de apoio à formação docente em educação bilíngüe intercultural. Disponível em: http://www.unesco.cl/port/biblio/ediciones/index.act?pos=80&texto=&total=125 Acesso setembro de 2007. [1] Adotamos a concepção de cultura escrita utilizada por Emilia Ferreiro, com o entendimento de que o ato de ensinar a língua escrita deve possibilitar aos alunos e alunas o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos de diferentes gêneros, que circulam socialmente e que estão presentes no cotidiano das sociedades letradas a fim de que possam sempre que necessário fazer uso destes conhecimentos. FERREIRO, Emília. Cultura Escrita e Educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. [2] Não localizamos um conceito consistente de “Sociedade ágrafa”. Em nossa compreensão refere-se a um modelo de sociedade onde não está presente a grafia tipo escrita alfabética/fonética, utilizada pela sociedade ocidental, conforme o próprio nome já sugere: a=negação e grafia=escrita. [3] HARRIS, Roy. The language-makers. London: Duckworth,1980. [4] Ibidem, p. 31. |