
Talvez todos os humanos sejam solitários. Ou pelo menos possam se tornar.
Kazuo Ishiguro
Desde a Primeira Revolução Industrial, no século XVIII, o homem se acostumou a associar o progresso tecnológico a perdas de toda ordem, desde o desemprego em massa até a sensação de não ser mais necessário. Valendo-se dessa premissa, muitos escritores criaram histórias que enfatizam essas perdas, transformando os avanços da ciência em armadilhas, muitas vezes mortais, para o ser humano. É como se, a cada conquista científica, o homem fosse abandonando a sua humanidade como quem, pouco a pouco, vai desvestindo-se das roupas que não deseja mais.
No século XIX vários autores trabalharam com essa temática, ora enaltecendo a ciência, ora demonstrando o quanto ela pode ser destrutiva. Um exemplo muito conhecido é o livro da escritora inglesa Mary Shelley (1797-1851), Frankenstein ou o Prometeu Moderno, publicado em 1831[1]. Considerada a primeira obra de ficção científica, o romance relata a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. A partir de uma série de experimentos, todos seguindo uma “rigorosa metodologia científica”, Frankenstein cria um ser grotesco e no processo sacrifica a família e a própria vida. No entanto, assim que o ser fica pronto, ele se enoja da sua criação, rejeita-o e foge. A partir daí veremos a criatura perseguindo seu criador, exigindo explicações não só do porquê foi criada, mas, principalmente, porque foi abandonada. O romance gótico de Shelley, além de ter alcançado um grande sucesso de público, lançou as bases do que mais tarde será o estereótipo mais conhecido do cientista – um indivíduo obcecado, absorto em suas experiências e, por consequência, alheio ao mundo a sua volta – e a metáfora do que o mau emprego do conhecimento científico pode fazer com o homem.
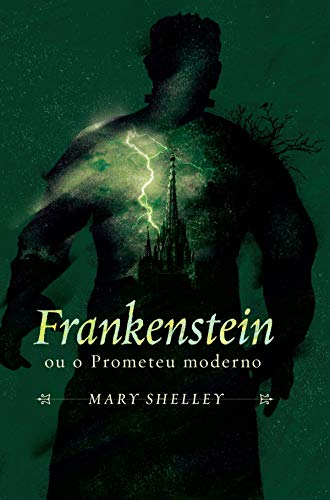
No século XX, escritores de ficção científica retomaram essa ideia, mas, dessa vez, pensando em outro tipo de “criatura”, uma que não era feita de carne, ossos e sangue, mas de metal. Uma “criatura” capaz de processar informações com uma rapidez e um volume muito superior ao do homem, assim como realizar operações complexas de forma objetiva, sem se cansar ou sentir emoções que pudessem perturbar seu trabalho. Esses autores, contudo, sabiam que se seus “monstros” fossem apenas grandes caixas de metal, teriam dificuldades em cativar os seus leitores. Assim, resolveram utilizar outro avanço da ciência em seu favor, os robôs, dispositivos eletromagnéticos, com forma humanoide, capazes de realizar atividades de maneira autônoma ou pré-programada.
Na década de 1940, o bioquímico Isaac Asimov (1920-1992) começou a escrever diversos livros sobre robôs domésticos, educados e fieis ao ser humano. Essas características afastaram, parcialmente, o temor despertado por Mary Shelley um século antes. No entanto, o próprio Asimov se encarregou de destruir essa imagem, ao criar histórias de robôs rebeldes, tomando consciência de si mesmos e lutando, não só por sua liberdade, mas pelo domínio do planeta. Essa nova versão do monstro de Frankenstein, reavivou os temores da máquina controlando o homem e sendo a causa de sua aniquilação.
No século XXI essa problemática “homem x máquina” continua muito presente e ainda provoca muito temor. O cinema está cheio de imagens de robôs superinteligentes, capazes de criar sociedades completamente autônomas na qual o ser humano torna-se apenas uma fonte de energia, como se vê na série Matrix. Porém, estranhamente, apesar do cinema estar produzindo continuamente filmes com essa temática, a literatura do século XXI tem se mantido um pouco afastada desse assunto. Atualmente, o que predomina são histórias distópicas, a maioria delas voltadas para o público jovem. Os robôs quando aparecem o fazem de maneira periférica, raramente sendo os protagonistas. Por isso, fiquei surpresa quando chegou as minhas mãos o livro Klara e o Sol[2], do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, de 2017, o escritor nipo-britânico Kazuo Ishiguro.
O nome que dá título ao livro, Klara, é uma AA, ou seja, a “Amiga Artificial” de uma menina chamada Josie, e a narradora da história. Ishiguro não especifica a época na qual a história se passa, mas mostra uma sociedade na qual se pratica a manipulação genética, o que ocasiona uma separação social entre aqueles que foram manipulados – “os elevados” – e aqueles que não o foram – “os normais”. Essa divisão obriga as crianças “agraciadas” com melhores dotes genéticos a receberem aulas particulares em casa, de professores especialmente escolhidos para esse fim; a escola acaba se tornando o espaço subaproveitado dos “normais”. O único contato que é permitido aos “elevados” ocorre em momentos, previamente agendados, chamados “integração” nos quais eles relacionam-se apenas com seus iguais. Como resultado, essas crianças são forçadas a um isolamento que é quebrado apenas pela convivência com a família direta e seus AAs.

Como é seu estilo, Ishiguro mantém uma névoa de mistério sobre o que realmente está acontecendo. Essa sensação de estarmos caminhando em meio a uma neblina começa já na primeira página, quando Klara se apresenta – a narrativa é toda em primeira pessoa – e vai se intensificando conforme a história se desenvolve, para que tudo (ou quase tudo), seja revelado apenas no final do livro. Por que a mãe de Josie desconfia de Klara? Por que Josie está sempre doente? Por que o amigo “normal” de Josie, Rick, não é bem-vindo na casa? O que faz Klara ser tão diferente? O que o Sol significa para ela? Essas são apenas algumas das perguntas que vão surgindo no decorrer da leitura e o leitor só saberá as respostas quando o livro tiver terminado. A manipulação do suspense é outra das grandes habilidades literárias de Ishiguro.
De qualquer forma, o importante é que o autor retoma a velha discussão sobre o perigo de criarmos “seres” mais inteligentes que o homem. “Seres” que colocam em debate o que é ser humano. Klara é um robô, mas sob muitos aspectos ela tem atributos que, muitas vezes, não encontramos em homens e mulheres de carne e osso: capacidade de se colocar no lugar do outro e de sacrificar-se, pensando sempre no bem-estar de quem lhe é próximo. Klara é uma máquina, mas também é um ser consciente do que é certo e errado, capaz de pensar além dos limites de seu corpo robótico, percebendo sutilezas que passam despercebidas até para o melhor dos observadores humanos. Klara é um autômato, mas ela possui uma qualidade que também não se vê com frequência nos dias que vivemos: empatia.
Ishiguro nos coloca diante de dilemas que remontam a época de Mary Shelley: quem é o monstro? O criador ou a sua criatura? São os avanços da ciência ou o egoísmo humano que devemos combater? O autor não responde essas perguntas, afinal trata-se de literatura e não de um tratado filosófico. Entretanto, ele tem o mérito de colocar essas questões diante do leitor para que ele possa refletir e, assim, tirar suas próprias conclusões. Essa é a função da literatura: apontar caminhos, novas formas de interpretar uma realidade além, é claro, de mergulhar o leitor em realidades que não estão (ainda) ao seu alcance. Leia Klara e o Sol e conheça esse robô tão humano!
[1] Mary Shelley escreveu a história quando tinha apenas 19 anos, entre 1816 e 1817, e a obra foi primeiramente publicada em 1818, sem crédito para a autora na primeira edição. Atualmente costuma-se considerar a versão revisada da terceira edição do livro, publicada em 1831, como a definitiva.
[2] ISHIGURO, Kazuo. Klara e o Sol. Tradução de Ana Guadalupe. São Paulo: Companhia das Letras, 2021 (336 p.).



