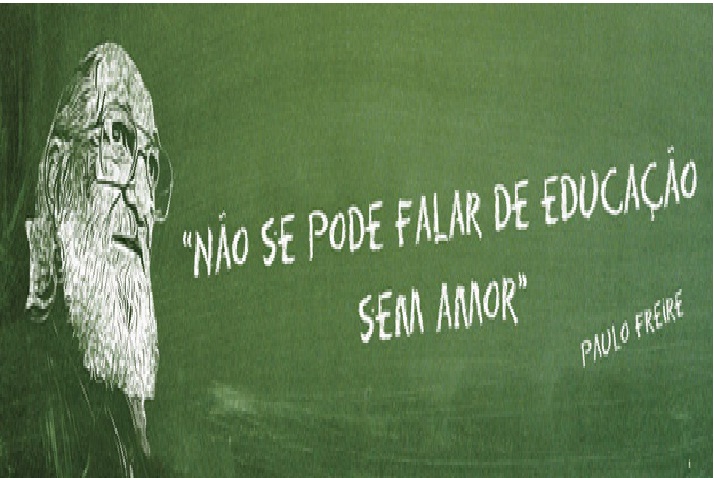O filme “De volta ao Planeta dos Macacos” (EUA, 1970), segundo da série, mostra um grupo remanescente de humanos, que vivem em subterrâneos e adoram uma bomba nuclear capaz de destruir a terra.
Ela seria – como foi, no filme – o último estágio da estupidez humana.
Mas, quem e por que a teria criado um artefato capaz de tão terrível e definitivo objetivo?
O estudo da radioatividade e seus empregos é relativamente recente.
Merecem destaque Marie Curie, que cunhou o termo radioatividade (1902); e Enrico Fermi, responsável pela primeira reação nuclear autossustentada em cadeia (1942).
Graças a esses dois cientistas, o uso terapêutico e energético de materiais radioativos ficou disponível para a humanidade, ao mesmo tempo em que, talvez inconscientemente, abriram uma nova “caixa de Pandora”. Isso porque alguns cientistas, na ânsia de provar sua capacidade, superar obstáculos e provar teses próprias os propostas, tendem a ser inconsequentes ou terem suas descobertas desvirtuadas.
O filme “Oppenheimer” (EUA, 2023) conta a história do físico responsável pelo Projeto Manhattan, que criou as primeiras bombas atômicas. Por conta desse pioneirismo, que levou à destruição de Hiroshima e Nagasaki, Julius Robert Oppenheimer, passou de cientista bem sucedido ao homem que abriu a “caixa”, gerando, sem saber, uma corrida em busca do apocalipse nuclear.
No entanto, poucos lembram que Einstein, Fermi, Bohr e outros cientistas exortaram os EUA a competirem com a Alemanha Nazista, na busca por armamentos nucleares. O Projeto Manhattan foi uma consequência dessa exortação, e o início de uma escalada assimétrica sem precedentes.
A teoria estava pronta, mas a prática envolvia uma série de incertezas. A única certeza, já conhecida pelo uso terapêutico da radiação, era seu potencial cancerígeno: dependendo da dosagem, o que cura também pode matar! Os primeiros radiologistas que o digam.
O teste da primeira bomba nuclear ocorreu em 16 de julho de 1945, em Alamogordo, no Novo México, após três anos de desenvolvimento. A Alemanha havia se rendido em 7 maio, mais de um mês antes, portanto.
Os EUA teriam usado a bomba contra a Alemanha? Não creio, pois muita coisa seria destruída, além do III Reich. Toda a tecnologia e produção científica alemã, por exemplo, que já era curiosidade e desejo dos Aliados.
No mais, parece difícil que, em algum momento, qualquer um dos antagonistas utilizasse esse tipo de artefato na Europa, o que não impediu de despejarem milhares de toneladas de bombas uns nos outros. Mais de 18 mil toneladas de bombas foram lançadas sobre Londres, durante o conflito. Em apenas 25 minutos, 1,8 mil toneladas de bombas foram lançadas em Dresden, na Alemanha. Mas ainda era destruição sem radioatividade.
A União Soviética, aliada oportuna, já havia se tornado uma superpotência militar, em parte com a ajuda de EUA e Inglaterra, que lhe deram suporte para enfrentar a ofensiva alemã, no front oriental. Dividir as forças nazistas em dois fronts, contando com o apoio do “General Inverno” – que já havia derrotado Napoleão, mais de um século antes – foi crucial para derrotar os alemães e seus aliados.
Antes uma ameaça ao Ocidente, por conta do expansionismo comunista, a URSS mereceu até superproduções hollywoodianas, para mudar a má imagem dos soviéticos no Ocidente.
A União Soviética esteve a pique de ser derrotada pelos alemães. Como o Japão, com problemas logísticos, deteve seu expansionismo no Oriente, lutando contra EUA, Inglaterra e seus aliados. Com isso, foi possível transferir tropas soviéticas para o front ocidental, quando Moscou já estava prestes a cair.
E o Japão ainda exigia uma retaliação, em função do ataque a Pearl Harbor e de todas as atrocidades cometidas na China, na Coreia, nas Filipinas e em colônias britânicas do Pacífico e Extremo Oriente.
Oppenheimer e equipe já haviam testado a bomba com sucesso, mas ainda não existiam satélites-espiões, transmissões de TV via satélite ou outro meio de comunicação que permitisse aos japoneses tomarem conhecimento do que os aguardava. O fanatismo e a propaganda também contribuíram para essa ignorância.
As forças japonesas já estavam quase lutando corpo a corpo, seguindo sua milenar disciplina e dedicação incondicional ao Imperador, considerado um deus. Os kamikazes já haviam comprovado esse obstinação condicionada.
Os EUA estimaram que invadir as principais ilhas do arquipélago nipônico custaria ainda milhões de vidas.
Assim uma série de fatores contribuíram para que as duas bombas disponíveis fossem lançadas no Japão: forçar uma rendição incondicional dos japoneses, evitar que a URSS voltasse seu poderio militar para o Japão, ampliando sua esfera de poder no pós-guerra; não permitir mais mortes de soldados americanos, já cansados de guerra; e testar, na prática, o poder desse novo armamento.
A Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, e o Acordo de Potsdam, de 17 de julho do mesmo ano, já haviam definido a divisão do mundo no pós-guerra, com os principais virtuais vitoriosos: EUA, Inglaterra e URSS já haviam dividido o mundo entre si. A partir de Potsdam também foi enviado um ultimato ao Japão.
Já havia negociações na tentativa de uma rendição honrosa. Mas os Aliados exigiam rendição incondicional!
Em 06 de agosto de 1945 foi lançada a primeira bomba, de urânio 235 – ironicamente apelidada de Little Boy -, sobre Hiroshima.
Em tese, o impacto dessa explosão poderia ter sido suficiente para provocar a rendição, mas as notícias demoravam a correr e os líderes japonese talvez não tenham entendido bem o que havia acontecido.
Não se sabe se para acelerar a tomada de decisão do governo japonês, ou para testar a segunda bomba, a Fat Man, de plutônio, novo ataque ocorreu em Nagasaki, em 09 de agosto.
Centenas de milhares de mortos e terra arrasada pelo calor de “mil sóis”.
Ocorre que os militares precisavam entender no que isso afetaria suas tropas, no caso de uma guerra nuclear; e os cientistas queriam entender a extensão do que haviam criado. Assim, os testes seguintes dos EUA, já em tempos de Guerra Fria, envolveram a exposição de soldados à radioatividade pós-explosões na atmosfera, para avaliar seus efeitos no corpo humano. Só os soldados não sabiam dos riscos envolvidos. Apenas cumpriram ordens, sem saber que eram apenas cobaias. Muitos deles morreram de câncer, outros ficaram estéreis.
As filmagens do filme “Sangue de Bárbaros” (EUA, 1956) foram feitas em locação no deserto de Utah, cerca de 200 km distante de onde haviam sido feitas algumas explosões nucleares na superfície, em Nevada, porque a produção considerou o cenário parecido com os desertos da Mongólia. Vários membros da equipe, inclusive Dick Powell, diretor, John Wayne e Susan Hayward, protagonistas, morreram de câncer.
Motivação dos EUA: obter a bomba atômica antes dos nazistas. Alguns dizem que os alemães já teriam condições de produzi-la, mas não o fizeram. E se produziram, não a utilizaram. E se foi encontrada pelos vencedores, isso foi acobertado.
Oppenheimer se arrependeu. Einstein também. Porém, isso não impediu que outros cientistas prosseguissem na pesquisa e produção de novos e cada vez mais destrutivos artefatos nucleares.
O desafio, agora, era evitar a hegemonia dos EUA, o que deu início à Guerra Fria e sua escalada assimétrica.
Não à toa, Washington tentou manter essa tecnologia como segredo de Estado. Tentou…
OPPENHEIMER – CIÊNCIA E ARREPENDIMENTO – PARTE II
A URSS mantinha seu projeto expansionista, espalhando o comunismo pela China, pela Indochina, pelas Américas, pela África… O colonialismo entrou em declínio por conta disso.
Theodore Hall, um dos cientistas do Projeto Manhattan teria vazado informações sobre a bomba para os soviéticos. Porém, os próprios EUA consideravam que a URSS em pouco tempo desenvolveria a tecnologia necessária. Só não contavam que a aceleração viria de compatriotas. Hall era um espião soviético, que viveu até 1999, considerado por alguns como um pacifista, por proporcionar um equilíbrio de poder. Mas foram Julius e Ethel Rosemberg que “pagaram o pato”, executados em 19 de junho de 1953, como “bodes expiatórios”, já em pleno macartismo.
Assim, antecipando as previsões, em 29 de agosto de 1949, a URSS detonou sua primeira bomba atômica, que também teve um “pai” posteriormente arrependido: Andrei Sakharov. E não ficou por aí:
Em 30 de outubro de 1961, a URSS explodiu, numa ilha do Oceano Ártico, a Tsar Bomba, de hidrogênio, considerada a mais potente já produzida.
É óbvio que havia pressão estatal sobre cientistas, obrigados pela doutrinação ou ameaças. Mas também os que precisavam provar que eram capazes de superar desafios, sem medir consequências, por curiosidade científica, lucro ou vaidade pessoal, quem sabe.
O arrependimento não era coisa recente, pois Alfred Nobel, criador da dinamite, também se arrependeu do uso militar de seu invento. Esse arrependimento foi expresso na criação do prêmio que leva seu nome. Não consta que um cientista inventor de meios de destruição tenha sido agraciado com tal láurea, até hoje, apesar de alguns guerreiros que se emendaram o terem recebido.
No entanto, a saga dos cientistas desenvolvedores de instrumentos de destruição em massa prosseguiu, tanto na área da guerra convencional como da química e biológica. Mas esse texto é sobre a guerra nuclear.
O Reino Unido explodiu sua primeira bomba atômica, a “Hurricane”, em 03 de outubro de 1952.
A França não poderia ficar atrás, até para tentar manter seu status histórico e sua independência, como nação. Assim foi que também teve um progenitor dessa obra demoníaca: Louis Leprince-Ringuet.
A primeira bomba atômica francesa também tinha um apelido: Gerboise Bleue. Ela foi detonada em 13 de fevereiro de 1960 na Argélia, então um departamento francês.
Conheci Leprince-Ringuet em 1986, num evento em Aix-em-Provence: um simpático idoso que criticou, em sua palestra, o que considerava um retrocesso tecnológico da França, com direito a uma performance de cena similar ao moonwalk de Michael Jackson. Curiosamente, conclamava que o país voltasse a produzir motocicletas.
Não procurei encontrar nomes de outros cientistas obstinados ou pressionados a desenvolverem artefatos nucleares. Também não sei se eles apertariam os botões de lançamento, ou pensaram que estavam produzindo armas apenas para dissuasão, para não serem usadas. O problema, como sempre, está nas intenções do “cliente”.
Quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, os EUA se mobilizaram para conter a expansão do comunismo em seu “quintal”. Imediatamente, a URSS tratou de encaminhar mísseis nucleares para a ilha. Foi a crise dos mísseis de Cuba, em 1962.
Kennedy ameaçou Kruschev, afirmando que dispunha de arsenal para destruir a URSS várias vezes, enquanto os soviéticos detinham o suficiente para arrasar os EUA apenas uma vez. Em resposta, o Kruschev respondeu que destruir os EUA uma vez já seria suficiente. Papo de doido…
O curioso é que, enquanto Kruschev negociava com Kennedy, tentando evitar o que muitos consideravam o fim do mundo, Fidel insistia em lançar os mísseis de pronto.
Superada a crise, a escalada assimétrica prosseguiu, a todo vapor nuclear, cada país também querendo possuir seu arsenal nuclear.
O filme “O Rato que ruge” (Reino Unido, 1959) é um exemplo, em tom de comédia, do que representa o poderio nuclear independentemente do país que o detém.
A China entrou para o “seleto” grupo em 16 de outubro de 1964.
A Índia detonou sua Smiling Buddha, em 18 de maio de 1974. Duvido que Buda tenha sorrido com tal denominação esdrúxula.
Logo ao lado, o muçulmano Paquistão demorou um pouco mais para equilibrar a balança, em 1998, o que não impediu que, até hoje, um lado e outro troquem artilharia pesada na região fronteiriça de Kashmir, para lembrar que têm tropas ali.
A Coreia do Norte entrou no grupo em 2006.
Alguns acordos tentaram conter essa escalada assimétrica, tais como: o Test Ban Treaty (TBT), que tentou banir testes nucleares na atmosfera, água e espaço; o Non-Proliferation Treaty (NPT, 1968), que “vetou” a entrada de novos países no ”Clube Nuclear”; o Strategic Arms Limitation Talks – Salt I (1972) e Salt II (1974, ratificado em 1979), objetivando conter a proliferação de armas nucleares; o Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT, 1996), que visava a proibição total de testes nucleares; e Treaty on Strategic Offensive Reductions (SORT, 2002), esse celebrado entre EUA e Rússia, para redução de seus arsenais nucleares.
As expectativas recorrentes nesses tratados são: não-proliferação, desarmamento e uso pacífico da energia nuclear. Porém, o resultado prático foi assegurar o poder bélico nuclear aos países que já o haviam alcançado. Isso não impediu que não signatários – e mesmo os signatários – desenvolvessem seus programas nucleares bélicos, casos de Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte, por exemplo.
Isso também não impediu que fossem produzidas bombas sujas, bombas de nêutrons, bombas de fusão nuclear (a mais temível de todas, tipo Tsar Bomba) e bombas de fissão nuclear.
O Estado de Israel, além de contar com arsenal nuclear, também atua “cirurgicamente” para evitar qualquer tentativa semelhante, por parte de seus inimigos mais próximos.
O fato é que quem entra no “clube” não sai mais, ao que consta. E quem não faz parte, “esconde o jogo”.
O terrorismo e a ganância dos “mercadores da morte” e seus cientistas de plantão, oportunistas ou ideologicamente ou religiosamente engajados, também geram dúvidas se outros países ou grupos disporiam desse tipo de armamento.
O filme “A soma de todos os medos” (EUA, 2002) – mais um com o personagem fictício Jack Ryan, criado por Tom Clancy –, entre outros, aborda essa possibilidade.
A ONU dispõe de mecanismos de controle dos tratados em vigor. Também dispõe de um Conselho de Segurança, composto por 15 membros, sendo 5 permanentes, a saber: EUA, Rússia (antes URSS), China, Reino Unido e França, coincidentemente os primeiros países a possuir artefatos nucleares. Os outros 10 são rotativos. O Brasil pleiteia um assento permanente. Seria o único de fora do “clube”. Seria?
Consta que o primeiro reator nuclear instalado no Brasil foi IEA-R1, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), no Campus Butantã da USP, em 1956, ainda em operação.
Em 1968, a Argentina adquiriu uma usina nuclear da Alemanha, que entrou em plena operação em 1974, sob governo militar. O Brasil, também em 1968 e igualmente sob regime militar, para “equilibrar” o cenário regional, também definiu pela construção de uma usina nuclear em Angra dos Reis e, em 1975, celebrou um acordo nuclear com a Alemanha.
O risco de uma escalada assimétrica também existe fora do Hemisfério Norte.
No entanto, para produzir a matéria-prima necessária para construir um artefato bélico nuclear é preciso dominar a tecnologia de enriquecimento do material radioativo. Esse material é o mesmo utilizado como combustível de usinas nucleares.
O Brasil já detém essa tecnologia (ultracentrífugas) e produz urânio isotópico enriquecido na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), em Rezende/RJ.
A Marinha do Brasil, que participou do desenvolvimento dessa tecnologia, também vem evoluindo o projeto do submarino de ataque movido a energia nuclear, já batizado SN-10 Álvaro Alberto.
O Programa Espacial Brasileiro sofreu um duríssimo golpe em 2003, quando da explosão do Veículo Lançador de Satélites – VLS-1, ocorrida na Base de Alcântara/MA. A tecnologia envolvida também serviria para a construção de mísseis de longo alcance? Isso contribuiria para que o Brasil deixasse de ser considerado um “quintal”, “república de bananas” ou outra condição subalterna aos interesses estratégicos e econômicos de “A” ou “B”?
Considerando os discursos de países desenvolvidos, sobretudo alguns membros permanentes ocidentais do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil, por suas dimensões territoriais, população e recursos naturais, talvez seja o país que mais necessite dispor de poder dissuasório, em vez de ficar balançando entre potências mundiais antagônicas, de acordo com o governo da vez.
Isso quer dizer que precisamos de uma arsenal bélico nuclear?
Seguramente isso seria mais combustível nessa escalada assimétrica insana.
Para se ter uma ideia aproximada dessa insanidade, segundo a Federation of American Scientists, em 2022, a quantidade estimada de ogivas nucleares por país era de: 5.977, na Rússia; 5.943, na OTAN; 350, na China; 165, no Paquistão; 160, na Índia; 90, em Israel; 20, na Coreia do Norte, totalizando 12.705! E já foi muito mais do que isso!
Até hoje, apenas os EUA utilizaram artefatos nucleares numa guerra. Provaram centenas de milhares de mortes de imediato e ao longo do tempo, apenas com duas bombas!
O pavor inicial gerou concorrência. Acidentes nucleares demonstraram que o ser humano ainda não consegue lidar plenamente com a energia nuclear, mesmo quando utilizada com fins pacíficos.
E se algum dia um fanático ou um desequilibrado mental resolverem “apertar botões”?
Incineração instantânea, radiação prolongada, eclipse e inverno nuclear… Apocalipse nuclear!
Uma tal catástrofe também poderia ocorrer em função de erupções de vulcões, terremotos, maremotos ou impacto de asteroides, meteoros ou cometas com a Terra, mas seriam acontecimentos, em tese, alheios à interferência humana.
No caso de um conflito nuclear, toda a humanidade estará em risco!
Nesse sentido, Oppenheimer, Sakarov, Leprince-Ringuet, Hall e todos os cientistas que atuaram do desenvolvimento e disseminação de bombas nucleares tem, sim, parte da culpa por abrir essa “caixa de Pandora”. O mesmo vale para os que desenvolvem armas químicas, biológicas e de qualquer espécie.
Santos Dumont lamentou ver sua invenção ser utilizada como meio de destruição. Essa não era sua intenção. Isso também se aplica a Einstein e Fermi. Marie Curie talvez seja a mais inocente de todos.
Aviões unem pessoas, abreviam distâncias. Más intenções os transformaram em armas. A radioatividade pode matar, mas, em mãos bem intencionadas, podem curar! Uma faca serve para cortar alimentos, mas também serve para matar. Tudo depende do uso que se dá à ferramenta.
E por falar em alimentos, o que se gasta com a produção e aquisição de armamentos seguramente contribuiria para resolver uma série de problemas no mundo, inclusive saneamento, saúde, educação, habitação, e segurança pública e alimentar, de uma população que não para de crescer.
Nesse sentido, é preciso repensar até que ponto a ciência, em lugar de buscar a evolução da civilização, continuará servindo a propósitos de quem quer meios para dominá-la ou destruí-la, até um ponto em que não haverá mais espaço para arrependimento.